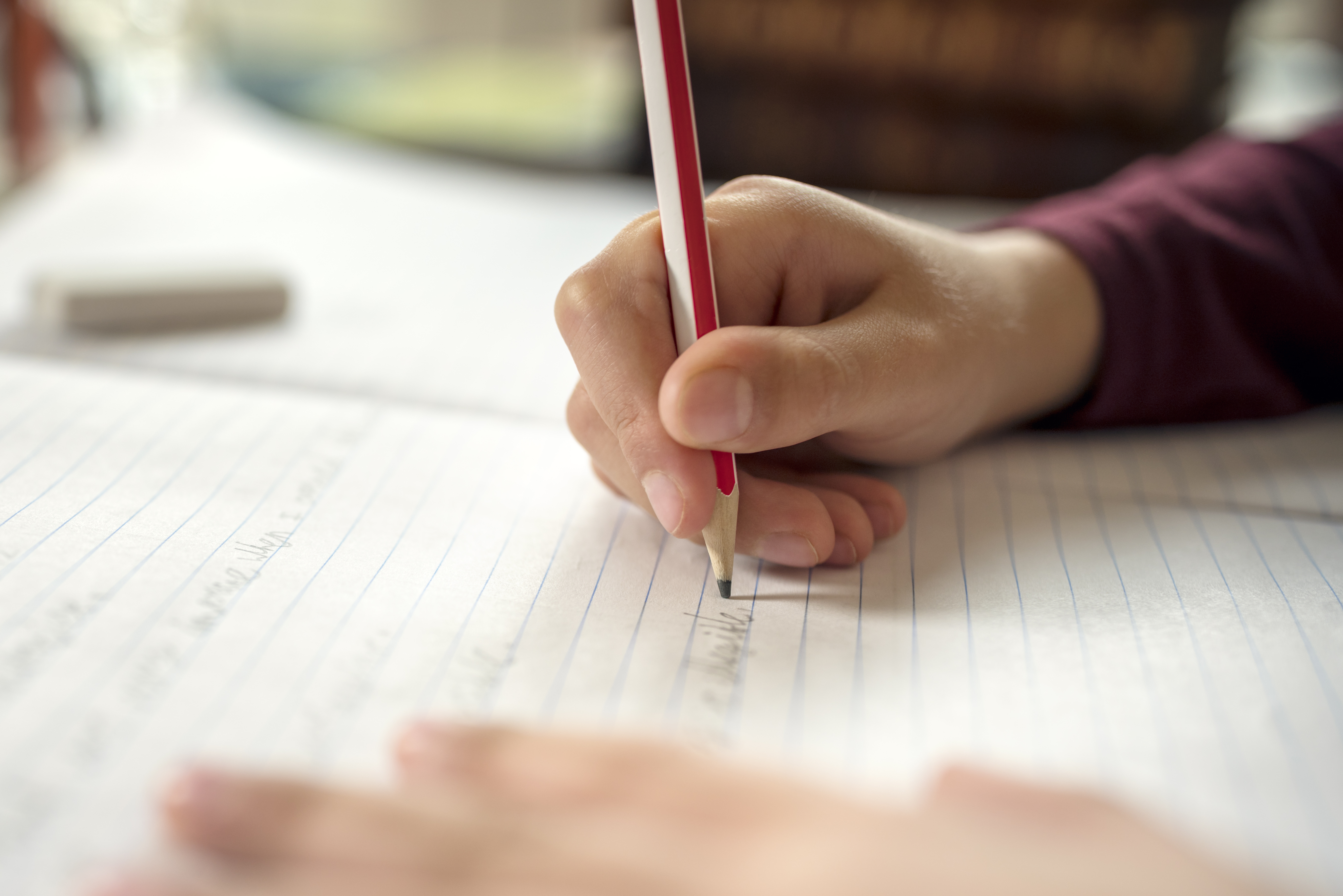O tema ENEM 2019 assustou e causou alguns desconfortos, principalmente nos estudantes. Isso aconteceu por conta da alta especificidade: discorrer sobre o assunto pedido demanda conhecimentos – e interesses – bastante diferenciados e segmentados.
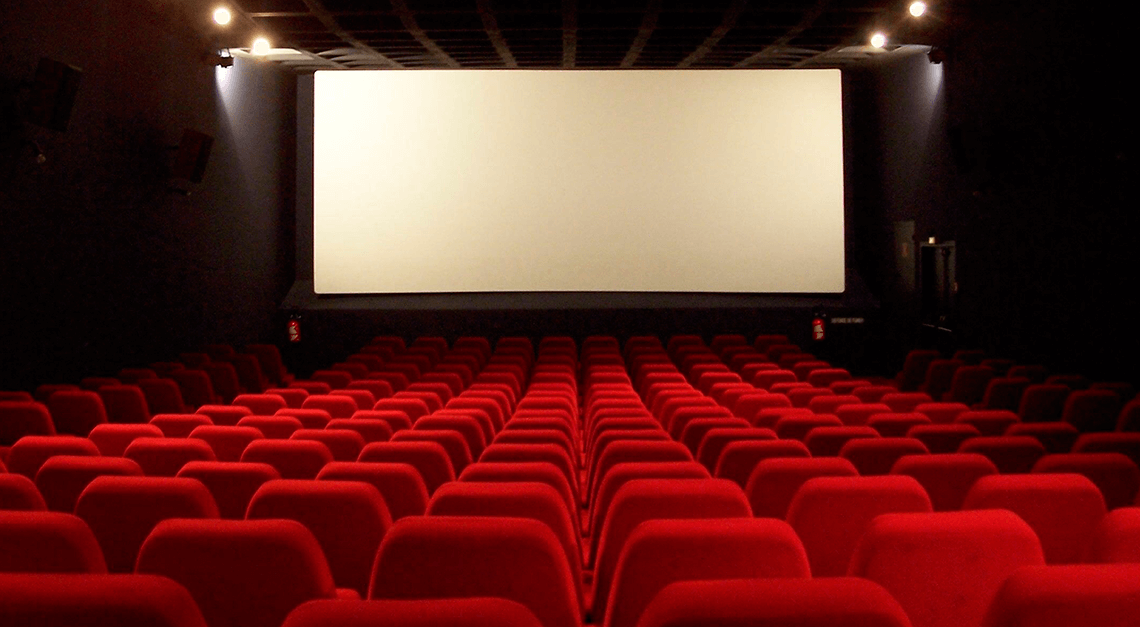
O Texto I era histórico e citava os irmãos Lumière (considerados por muitos os inventores do cinema) e Georges Mélies, que queria comprar uma máquina. Esta é uma informação que não ajuda muito a defender o tema. O que realmente poderia ajudar é a visão do cinema como um instrumento científico pelos Lumière, o que poderia levar à argumentação de que o cinema – mesmo o de ficção – pode ser pensado como uma ferramenta de construção cultural e de crítica/pensamento.
TEXTO I
No dia da primeira exibição pública de cinema – 28 de dezembro de 1895, em Paris -, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Mélies, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema; queria adquirir um aparelho, e Lumière desencorajou-o, disse-lhe que o “Cinematógrapho” não tinha o menor futuro como espetáculo, era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar estórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século?
BERNARDET, Jean-Claude. O que é Cinema. In BERNARDET, Jean- Claude; ROSSI, Clóvis.O que é Jornalismo, O que é Editora, O que é Cinema. São Paulo: Brasiliense, 1993.
(à parte, e também não tão útil para defender o tema, é a noção de que Mélies pode ser considerado o “segundo pai” do cinema, pois é ele quem desenvolve o conceito de narrativa e “cria” os hoje tão famosos efeitos especiais)

O Texto II é quase um desserviço, pois muito abstrato. Apenas a parte de solicitar a participação do espectador poderia ser aproveitada com mais objetividade. O que se poderia dizer é que “o cinema propicia a imersão do espectador, que ‘compra’ a história mostrada como sua e, por isso, tende a raciocinar profundamente sobre ela”.
TEXTO II
Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador.
GUTFREIND, C. F. O filme e a representação do real. E-Compós, v. 6, 11, 2006 (adaptado).
Os Textos III e IV são mais pragmáticos e o que importa neles são números impactantes que mostram o quão pequeno ou menor do que deveria ser é o acesso dos brasileiros ao cinema. De minha parte, sugeriria usar do Texto III a informação de que apenas 17% da população frequenta o cinema e, do Texto IV, o fato de que o Brasil é apenas o 60º país no ranking de habitantes por salas de cinema.
TEXTO III

TEXTO IV
O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado: quase 3 300 salas em 1975, uma para cada 30 000 habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1 000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2 200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente (o Brasil é apenas o 60o país na relação habitantes por sala), ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas: o Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior.
Disponível em: https://cinemapertodevoce.ancine.gov.br. Acesso em: 13 jun. 2019 (fragmento).
A defesa deveria ser de que é preciso melhorar o acesso ao cinema no Brasil, e isso passa por dois pontos principais: o preço das sessões e a disponibilidade de salas. É notório que, principalmente nas grandes redes e em salas equipadas com recursos técnicos privilegiados, o preço pode ser demasiado elevado para a maioria das pessoas. E, como se diz no Texto IV, em regiões como Norte e Nordeste, em periferias e cidades pequenas e médias o acesso é difícil por escassez de exibidores.
As propostas de intervenção poderiam contemplar a diminuição dos preços (até com a diminuição dos impostos), a oferta de sessões gratuitas especiais (que poderiam ser focadas em moradores das periferias ou de baixa renda), a construção de projetos de exibição itinerante em locais que não contam com salas e o fomento à instalação de exibidores em cidades pequenas e médias, com incentivos fiscais.

De qualquer forma, o que pôde ser notado é uma má escolha do tema, pois a alta especificidade é desnecessária e parece apenas ser um instrumento para dificultar tanto a análise quanto a movimentação de um repertório cultural vasto e extra-coletânea (uma das exigências da Competência II). Ponto contra quem montou a proposta de redação e vários pontos a favor para quem conseguir uma boa nota.
E fique ligado!
Na próxima semana vamos trazer um modelo de redação.